QUADRADO NEGRO SOBRE GRANDE ÉCRAN “The Square”, um filme de Ruben Ostlund (2017)
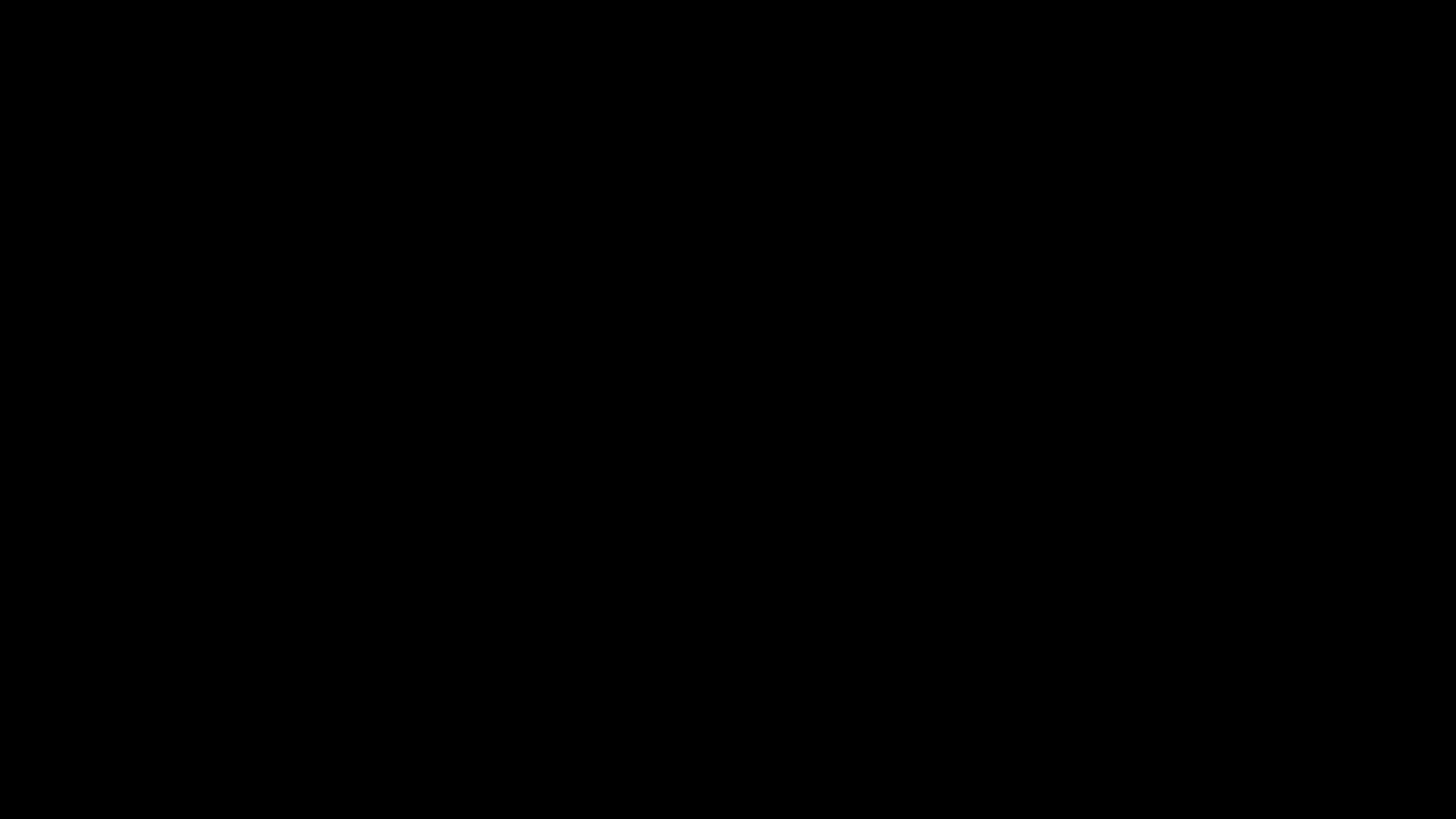
A Palma de Ouro do Festival de Cannes 2017 foi atribuída a “The Square” (dirigido pelo sueco Ruben Ostlund). A seguir aos Oscares, que celebram mais especificamente o cinema americano, a Palma de Ouro é a distinção mais desejada do mundo do cinema.
A decisão do Júri foi uma relativa surpresa já que o filme não constava da maioria das listas de favoritos. É provável que uma boa parte dessa surpresa resulte do facto de o contexto social da narrativa ser o mundo da arte contemporânea. O protagonista (interpretado por Claes Bang) é diretor de um museu de arte contemporânea, num momento em que os seus problemas profissionais (ideológicos, teóricos, curatoriais, administrativos, institucionais) se cruzam com problemas pessoais (afetivos, sexuais, parentais) e adquirem proporções “catastróficas”, na sequência de uma circunstância fortuita: a perda de um telemóvel. Não adiantaremos detalhes do argumento para evitar o efeito “spoiler”.
“The Square” é o nome da exposição que o diretor se prepara para abrir ao público no museu e, na realidade, tem origem numa instalação apresentada por Ostlund, em colaboração com Kalle Boman (produtor de cinema), em 2015, no Museu Vandalorum em Varnamo, e entretanto transferida para uma praça pública na mesma cidade.
O ponto de vista que aqui adotamos, de modo predominante, é o da sociologia da arte e cultura contemporâneas; sem abdicar de algumas incursões no domínio da crítica cinematográfica.
O primeiro ponto a destacar é o próprio facto de se fazer (e ser premiado ao mais alto nível) um filme (com escala e ambição vocacionadas para os grandes festivais e o chamado “grande público”) situado no mundo da arte contemporânea: um meio geralmente considerado inacessível e menosprezado ou ignorado pelo referido “grande público”. Só por si este facto revela que (Hipótese 1) o sistema da arte contemporânea se tornou suficientemente representativo e sintomático de contradições culturais de fundo das sociedades em que vivemos, ao ponto de permitir que a partir dele se elabore um guião que aborda e problematiza questões gerais nos domínios da criatividade mas também dos conflitos políticos, ideológicos, morais e culturais em sentido amplo.
Esta Palma de Ouro em Cannes consagra a ideia segundo a qual “existe uma especificidade do sistema da arte contemporânea, mas é a especificidade de um determinado tipo de manifestação e combinação de dimensões, cujas lógicas, em si mesmas, são sociais e globais“ (ver o meu livro “Sistema da Arte Contemporânea”, p.124).
O guião do filme assenta na exploração dos dois paradoxos ou contradições básicas em que hoje assentam (e que, ao mesmo tempo, hoje movem, fazendo esta consagração “cinéfila” parte desse movimento) o sistema da arte contemporânea.
A primeira contradição decorre do facto de (Hipótese 2) as dinâmicas criativas que são consideradas as mais ousadas, radicais e por vezes até pretensamente subversivas, geradas pelas imaginações contemporâneas, serem financiadas, acolhidas, celebradas e por vezes glorificadas pelo dinheiro e os novos hábitos de convívio mundano da elite dos super-ricos. Ninguém se importa de passar umas horas a beber champagne algures no meio de umas obras de arte “revolucionárias”. (Quem é que não gosta de champagne e “Michelin-starred Chefs"?). A quem é que importa que os artistas queiram ou deixem de querer (ou fingir querer) ser radicais ou revolucionários ou outra coisa qualquer ?
Enquanto o dinheiro circular com abundância os artistas radicais e os diretores de museus politicamente corretos sentir-se-ão tão felizes e (quase) tão confortáveis quanto os super-ricos cujos excedentes financeiros os sustentam.
A segunda contradição decorre da circunstância de (Hipótese 3) a maioria das formas concretas e putativos “conteúdos” das obras mais radicais - e teoricamente mais empenhadas em processos de boas intenções desalienantes, desmistificadoras e libertadoras das vítimas das práticas dos poderosos e dos discursos dos dominadores -, não suscitarem qualquer curiosidade, interesse ou vislumbre de inteligibilidade junto dessa imensa massa de vítimas a que supostamente se destinavam.
Estas duas contradições são ilustradas de modo exemplar (por vezes corroborando as mais banais caricaturas do senso comum em relação à arte contemporânea) pela sequência do incidente com a limpeza da sala de exposição e pela sequência da performance durante o jantar de gala. Curiosamente, a única presença efetiva da figura de um artista (uma impressiva performance de Terry Notary) é colocada sob o signo da animalidade. O que pode ser visto como um reforço do estereotipo relativo à contradição entre a energia vital (animal) da criação e a falta de energia dos discursos intelectuais (em que, por exemplo, o protagonista constantemente se engasga).
O guião e os diálogos são interessantes em termos de revelação dos mecanismos de funcionamento interno de uma instituição típica do mundo da arte contemporânea mas, por vezes, cedem a situações humorísticas eficazes mas demasiado caricaturais. Por outro lado, a própria riqueza narrativa gera uma multiplicação de sub-plots que muitas vezes são abandonados e deixados como pontas soltas. É frequente a sensação de que há coisas a mais, ou coisas a menos, que as cenas são demasiado longas ou, pelo contrário, carecem de desenvolvimento, tornando-se algo inconsequentes. Alguns especialistas sugeriam que o filme precisaria de ser remontado (o que não sabemos se virá a acontecer depois da atribuição do Prémio).
As duas contradições que enunciámos - e o modo como o guião as vai desdobrando em sucessivas situações ao longo do filme – poderiam ser condensadas em torno de dois núcleos problemáticos, cuja análise aqui não cabe desenvolver.
O primeiro tópico seria a noção de “square”: “square”/quadrado, nas suas implicações histórico-artísticas (modernismo, abstração), e “square”/praça pública, nas suas implicações político-sociais (comunidade, inclusão/exclusão). Tópico complementar, seriam as vicissitudes das boas intenções politicamente corretas (corporizadas nos dramas do diretor/curador do museu). Entre Kerensky, Malevitch, Eisenstein e Stalin, poder-se-ia assim abrir um amplo campo de especulação.
(Hipótese 4) A Arte Contemporânea, tendo absorvido toda a conceptualidade e transdisciplinaridade hoje concebíveis (do ready made à agitprop), e assumido a plena quebra das barreiras tradicionais entre Alta Cultura e Baixa Cultura ou entre Cultura de Elite e Cultura Popular, acabou por gerar um novo tipo de cisão, cada vez mais acentuada, entre a Alta Cultura de Elite e a Cultura Popular de Massas.
A cultura de elite, e o respetivo mercado, constituem uma espécie de reserva de luxo para as classes abastadas, servindo os seus protagonistas mais interessados em atingir objetivos de legitimação cultural e diferenciação social prestigiante.
Ao mesmo tempo, o dinamismo e a inesgotável criatividade dos artistas contemporâneos asseguram um trabalho básico de pesquisa, inovação e descoberta, que serve para garantir a permanente renovação do mercado cultural de luxo. Ainda assim, este muito peculiar segmento da produção cultural contemporânea em nada perturba (antes complementa) o absoluto domínio do mercado pelos produtos da verdadeira cultura popular de massas: ou seja, aqueles produtos que registam uma procura e um consumo massivos por parte de (quase) todos os grupos sociais.
Na verdade, só o aprofundamento do processo cultural de radicalização concetual da arte contemporânea pode garantir a sustentabilidade do “milagre económico” da transformação de “o que quer que seja” em “luxo”, assegurando uma “revolução permanente” dos ensejos de entretenimento da elite dos consumidores culturais, e induzindo a prosperidade dos seus fornecedores.
Antes de terminar, importa ainda sublinhar que a constatação das caraterísticas do contexto económico e social que enquadra o “mundo da arte contemporânea”, não deve impedir o reconhecimento e a devida valorização do facto de este “mundo da arte” continuar a ser, hoje, um território privilegiado para o exercício de uma imaginação e criatividade sem regras nem limites: um território de liberdade.
Alexandre Melo
Nascido em Lisboa, é um crítico de arte, curador, ensaista e professor. Licenciado em Economia, doutorado em Sociologia e professor de Sociologia da Arte e Cultura Contemporânea na ISCTE. Escreve, desde a década de 80, para as principais publicações portuguesas, entre elas o Jornal de Letras, o semanário Expresso ou o Público, e internacionais, como o El País, e é também colaborador regular de revistas internacionais de arte contemporânea como a Flash Art, Artforum e Parkett. Foi autor do programa de rádio «Os Dias da Arte». Comissário da representação portuguesa na Bienal de Veneza 1997, com Julião Sarmento e na Bienal de São Paulo 2004, com Rui Chafes e Vera Mantero. Curador das colecções do Banco Privado (em depósito no Museu de Serralves) e da Ellipse Foundation. Colaborador na escrita do argumento de "O Fantasma" de João Pedro Rodrigues. Co-realizador de "Fratelli" de Gabriel Abrantes. Argumentista e autor dos textos dos documentários Colecção Geração 25 de Abril. Foi Assessor Cultural do Primeiro Ministro de Portugal José Sócrates de 2005 até ao final do mandato do mesmo.
