Entrevista a Von Calhau!
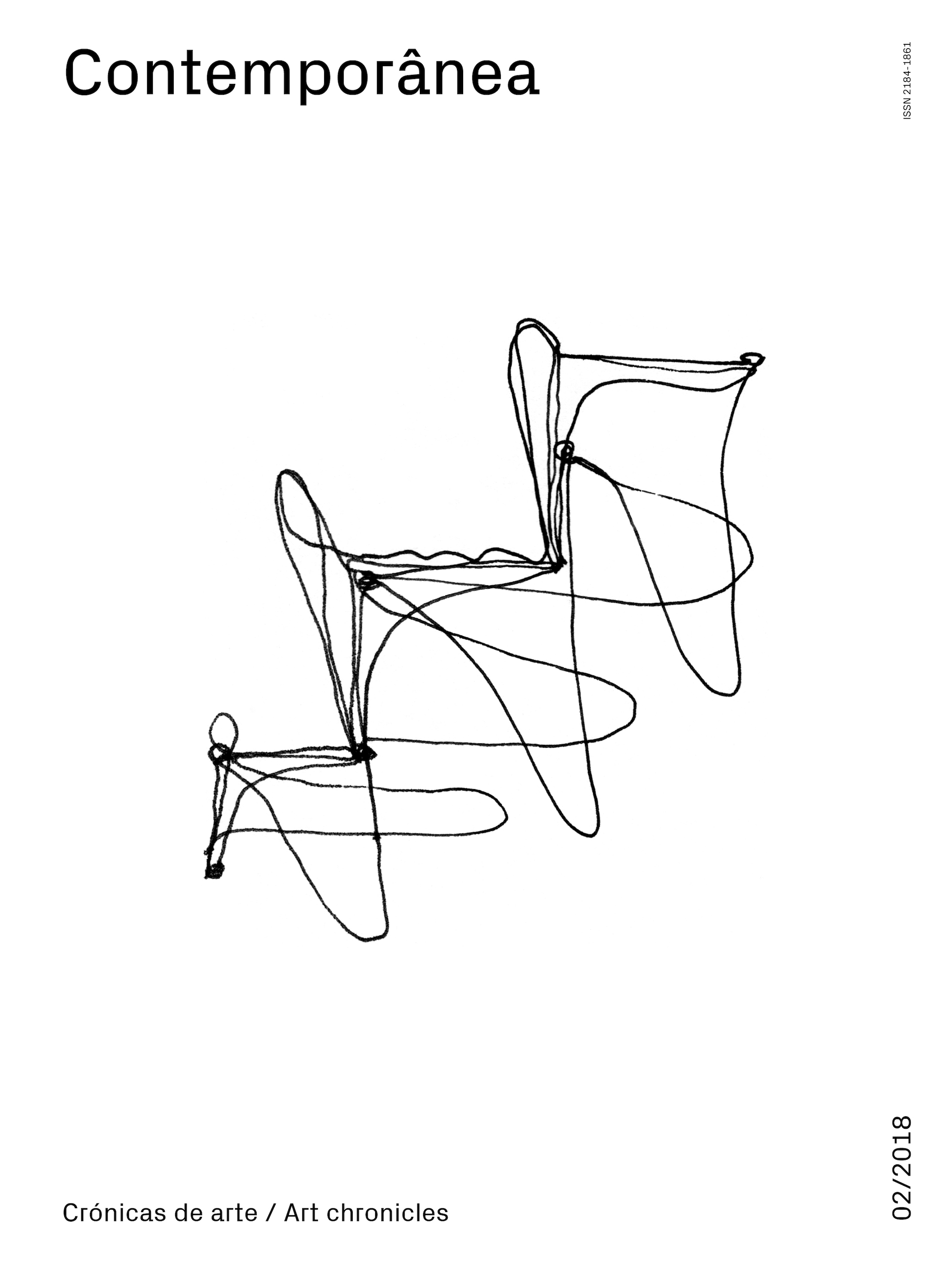
A licença da condução cega
Recupero, como introdução, palavras escritas há uns anos a propósito dos Von Calhau!: “Realizam espetáculos encenados. Desenham. Criam ambientes. Jogam com as palavras. Filmam sequências psicadélicas com um vago sabor retro. Não são pintores, nem escultores, nem músicos, nem poetas, nem cineastas. A dupla Von Calhau! está entre. Entre disciplinas, porque estas lhes são unicamente instrumentais na conceção de uma cosmogonia estética sem barreiras e aberta à mais radical experimentação. Operando a partir de um magma criativo que se vai diluindo em projetos que podem iniciar num determinado momento para serem continuados durante vários anos, estes artistas aproximam-se da ideia de Gesamtkunstwerk, aqui entendida como a possibilidade de criar entre e não no sentido romântico de uma obra de arte total que juntasse as várias disciplinas, tal como Wagner o idealizou. Ou seja, é nas margens definidas pelo humor e pelo absurdo que muitas das suas ações se desenrolam, num questionamento vital dos limites ainda vigentes no chamado sistema das artes.
Porque este é um direito que reivindicam e diligentemente procuram: daí as suas intervenções em locais completamente estranhos ao circuito artístico tradicional, a preferência por suportes de distribuição facilitada (edições de autor, discos vinil, serigrafias) e a aproximação a linguagens menosprezadas.”
Marta Baptista (M) e João Alves (J) são os entrevistados. Von Calhau! é o pano de fundo, ao mesmo tempo remoto e palpável. As palavras indiciam aquilo que imediatamente se pressente: uma determinação na incerteza, uma certeza na inteligência divergente.
MVHP: Vamos começar por dados da vossa biografia artística: conheceram-se no contexto de um workshop…
VC (M): Precisamente, em 2006; tratava-se de um workshop que envolvia curto-circuito eletrónico, onde o João era o docente.
VC (J): Sim, era uma coisa organizada pela 555, uma associação cultural que já não existe. Eu tinha acabado de chegar ao Porto, depois de ter estudado nas Caldas da Rainha, na ESAD [Escola Superior de Artes Decorativas] e vivido em Lisboa. Na altura a minha ideia era ficar um ano ou coisa assim. Na ESAD estudei escultura, mas desde logo comecei a trabalhar com som.
VC (M): Nessa altura eu também estava a explorar barulhos e coisas diferentes. Eu estudei Design de Comunicação nas Belas-Artes do Porto e estava a olhar para tudo à minha volta, aquela coisa do media art, mas interessei-me mais por aquilo que fosse o absolutamente contrário à ideia de empreendedorismo, antes atentando essencialmente ao que se poderia chamar de bizarro; algo que me atraía muito e ainda atrai…
VC (J): Pois, basta dizer que esse workshop era sobre como aplicar e criar curto-circuitos em aparelhos domésticos para criar sons; abrindo brinquedos, por exemplo, algo que as crianças fazem tão bem, fechando depois o objeto estropiado tornando-o um instrumento.
VC (M) Eu era DJ e interessavam-me cenas assim um pouco mais estranhas, misturando coisas, sons muito diversos. Daí que um amigo comum tivesse chamado a atenção para o tal workshop, que levou a um curto-circuito entre nós… [risos] Não percebemos imediatamente esse choque elétrico, mas aquilo foi crescendo e ganhando mais intensidade com o tempo, e isso foi muito bonito.
VC (J): Sim, com tempo, e isso incluía já apresentações públicas.
MVHP: Quando é que assumem a dupla enquanto entidade artística?
VC (J): Ao princípio estávamos sempre a mudar de nome; tínhamos nomes gigantes, alguns quase impossíveis de soletrar, até que nos convidam para um concerto no Cinema Batalha em que mudamos o nome a meio desse concerto para Calhau.
VC (M): Nós já tínhamos um poster para esse concerto onde aparecia a palavra “calhau”. Aliás, isso foi uma das facetas do nosso encantamento mútuo, pois íamos descobrindo muitos gostos e práticas em comum, nomeadamente este interesse na edição gráfica.
VC (J): Esta mudança de nome no meio de um concerto, onde mostrávamos esse cartaz com um jogo de palavras em torno da palavra “calhau”, não foi uma coisa refletida, premeditada; foi algo que apareceu no processo, e isso define em boa parte o que acontece ainda hoje em dia.
MVHP: Então e o “Von”?
VC (J): O “Von” é para nobilitar o “calhau”… [risos] Um calhau é uma pedra pequena, mas com resquícios de grande pedra… é um tempo geológico que está para além do nosso tempo…
VC (M): Sim, e interessou-nos essa enorme variedade de expressões que existem com a palavra “calhau”. “Burro como um calhau”, “calhau com dois olhos”…
VC (J): Na gíria jornalística um calhau pode significar um erro…
MVHP: Então, a partir dessa estabilização, apesar de tudo intermitente do nome, vão assumindo a dupla como estrutura com uma metodologia própria.
VC (M): Parte tudo de uma admiração mútua, depois apaixonamo-nos… estava tudo misturado.
V (J): Sim, nem nos questionávamos sobre nada… Era um fluxo continuado, não havia paragens, não havia dilemas, e havia uma energia muito específica na cidade – estamos a falar de 2006 –, em que o centro estava muito abandonado, mas ao mesmo tempo esse vazio era um estímulo gigante.
MVHP: Sim, uma resistência a uma desertificação cultural que também se fazia sentir e que levou a um ímpeto forte no sentido da auto-organização.
VC (J): Claro, não se trata aqui de fazer qualquer apologia da pobreza e desse tipo de desertificação; o que aconteceu foi que no caso concreto isso acabou por ser motivador.
VC (M): Pois, e acaba por levar a um espírito crítico mais agudo. Borbulhavam locais mais pequenos que eram muito estimulantes.
MVHP: Pequenos focos que criam comunidades…
VC (M): Exatamente!
MVHP: E nesse contínuo, um pouco mais tarde, surge o projeto da Oficina Arara.
VC (J): Isso partiu de um convite do Miguel Carneiro, que tinha vindo de Marselha onde tinha trabalhado com os Dernier Cri. Chegou muito motivado para abrir um estúdio de impressão em serigrafia e artes gráficas, e falou connosco. Juntou-se a Dayana Lucas e o Luís Silva e iniciamos a atividade em 2010.
MVHP: Qual era a vossa rota de intenções?
VC (J): A nossa ideia era tornar a Arara um espaço aberto onde se podia experimentar com o trabalho pessoal e ver como é que isso se pode cruzar com o trabalho dos outros. Nós já tínhamos produzido para terceiros, cartazes, etc. O que a Arara permitia era que os meios de produção fossem partilhados.
VC (M): Permitia-nos trabalhar num contexto económico muito mais razoável do que trabalhando com uma tipografia convencional, e permitia-nos experimentar livremente… variações manuais…
VC (J): Sim, não havia um hiato entre o artista e o impressor.
VC (M): Lembro-me que, a partir de certa altura, já queríamos fazer de tudo na oficina: arranjar tipos de uma fábrica que estava a fechar; fazíamos uma pesquisa/recolha muito interessante para nós – aprender a reciclar, reutilizando muppies, por exemplo. Havia necessidade de construir uma consciência económica e política.
VC (J): Depois chegou a uma altura em que foi difícil compatibilizar a nossa produção artística com tudo aquilo que a Arara implicava – porque se tratava de uma entidade coletiva –, e que obrigou a que nos afastássemos; se bem que ainda continuemos a produzir lá coisas, como as capas dos discos de vinil, por exemplo.
MVHP: Já vimos que desde o início partilham um interesse fundamental pelo som e um interesse comum pelo desenho que veio a ser descoberto. No âmbito dos vossos concertos e ações sempre tiveram consciência de que não iriam enveredar exclusivamente pela via sonora, certo?
VC (J): Acho que isso surge eminentemente pela prática, muito mais do que refletidamente. Surge porque sempre quisemos dar uma imagem a um concerto específico ou a uma determinada apresentação: fazer um poster ou fazer uma pequena edição em cd-r, que se usava muito na altura para distribuir numa pequena rede.
VC (M): No que toca à ação, sempre existiu uma componente de improvisação onde nenhum de nós sabia muito bem o que é que ia acontecer e isso dava-nos muito prazer.
VC (J): Era mais uma questão de colocar os ingredientes em jogo sem saber exatamente para onde a coisa iria fluir.
MVHP: Mas numa situação típica em que vocês sabem que há uma componente sonora, uma componente visual e uma ação complementar; há uma estrutura de base que sirva de apoio genérico, até em relação à duração do acontecimento?
VC (J): Varia. Há aqui também uma diferença crucial: se quisermos pôr a coisa em termos cronológicos, dir-se-ia que entre 2006 e 2008 ou 2009 nós não refletíamos muito sobre o nosso trabalho; de certa forma, era tudo um pouco mais espontâneo. A partir dessa data tivemos mais cuidado com aquilo que iríamos extrair dos nossos interesses primordiais, das nossas referências, das vivências do quotidiano.
MVHP: Nessa fase inicial que está mais voltada para os concertos vocês tinham um desejo claro e uma vontade específica de se inscreverem no universo das artes plásticas?
VC(J): Não, não tínhamos. Isso surgiu um pouco por acaso. Nós éramos convidados por estruturas que estavam nos limites da música e das artes visuais, nas periferias de ambos.
VC (M): Sim, nessa altura havia um movimento muito forte no campo da música “experimental”, música de improviso, coisas que não têm propriamente definição. Lembro-me que em Famalicão, na Casa das Artes, havia uma programação completamente fora, que nunca mais aconteceu. Entretanto, conhecemos o António Contador, fomos criando uma cumplicidade, correspondíamo-nos, e fomo-nos desafiando mutuamente.
VC (J): Sim, por vezes a coisa era tão simples quanto o repto “vamos fazer uma javardice” (risos), para designar aquilo que era o “tudo é possível”.
VC (M): Sim, ele como era mais velho já nos encaminhava para aqui e para acolá e os circuitos foram aparecendo.
VC (J): Entretanto, acontece uma coisa muito importante, que foi o encontro em 2008 com o Etienne Caire – um cineasta que gere o laboratório MTK de Grenoble – a acabamos por ir lá. Nesse ano, fomos lá uma semana e fizemos um filme muito curto de cerca de três minutos. E depois desse primeiro momento, voltamos em 2009 e ficamos numa residência de três meses.
VC (M): Pois, e aí interessamo-nos por tudo o que tinha que ver com as questões técnicas que podem estar associadas à experimentação com a impressão, a manipulação da película…
MVHP: E nessa altura a ideia era que essa dimensão fílmica ganhasse uma autonomia própria?
VC (J): Não, nessa altura era para ser apresentada em concertos.
MVHP: Por outro lado, depois das inúmeras edições em cd-r, aparece o primeiro vinil. E, mais ou menos nessa época, acontece uma certa “institucionalização”, não?
VC (J): Em 2011 aparece esse primeiro objeto com uma tiragem definida e lançado por uma editora, com quatro canções lá dentro, que são as quatro bandas sonoras dos quatro filmes que fizemos entre 2008 e 2010 (Quadrologia Pentatónica). Entretanto, e olhando retrospetivamente, o que acho que aconteceu connosco e com muitos outros nesse período foi que entre os convites de “vão de escada” e os convites mais institucionais se encurtaram distâncias.
VC (M): Sim, mas ainda hoje gostamos muito de ir para o local mais punk e a seguir poder estar presente num museu. Acho que se aprende muito com esse alargamento de experiências.
VC (J): Mas repara, eu não vejo isso como uma carreira institucional; os operadores podem ser institucionais, mas isso não define aquilo que fazemos. Isso decorre com uma certa normalidade, diria até que é uma questão geracional. O que é importante sublinhar é que os contextos podem variar, mas o trabalho mantém a mesma linha.

MVHP: Mas dentro dessa consciência de independência do trabalho relativamente ao contexto do convite, são sensíveis aos contextos recetivos, às próprias idiossincrasias dos espaços em que vão atuar?
VC (M): Sim, diria que isso é obrigatório. Está sempre implicado no trabalho: se há um muro no meio do espaço, o mais provável é que ele seja implicado na ação, vai fazer parte da ação.
VC (J): Sim, posso dar-te também o exemplo da exposição Às artes cidadãos de Serralves, que foi comissariada pelo Óscar Faria e o João Fernandes, onde nós optamos por trabalhar fora do Museu e fomos para a Feira da Vandoma.
MVHP: E pensam ou não no tipo de reação que o público possa ter? Imagino que atuar num festival de música improvisada ou num contexto de uma exposição de artes plásticas seja diferente, não?
VC (M): Isso é essencialmente uma riqueza para nós. Ainda recentemente estivemos na Artissima, em Turim, e o público de uma feira de arte é evidentemente um pouco estranho. Mas, por outro lado, também estivemos num festival em Roterdão de cinema experimental com pessoal, por exemplo, a fazer barulho a partir dos projetores e coisas assim meio punk, onde a receção é muito diferente.
VC (J): Sim, o público pode ser completamente diferente. O foco de atenção das pessoas é muito diverso num teatro ou num museu.
MVHP: Hoje em dia, o que é que vos motiva mais? A ideia de serem considerados músicos ou artistas?
VC (J): É esse limbo. O facto de não conseguir configurar precisamente a nossa posição, para além da denominação Von Calhau!, é justamente o que mais nos motiva.
VC (M): É o infinito de possibilidades abertas.
MVHP: Em relação ao vosso processo criativo, como é que definiriam a metodologia tipificada?
VC (J): Acho que o fundamental é perder tempo. Ou seja, fazer coisas supostamente inúteis, mas que depois se revelam estar a preparar terreno para qualquer coisa. É claro que há coisas práticas, deadlines que nos obrigam a um determinado trabalho específico.
VC (M): Sim, apesar de tudo há um trabalho de pesquisa que é diário.
VC (J): Pois, este perder tempo claramente que é, no fundo, um ganhar tempo! E isso pode ser muito difícil: deixarmo-nos interromper por qualquer coisa que não sabemos o que é. Ter a capacidade de desfocar. A sistematização, a preparação do terreno, é árdua. As coisas que vão surgindo, depois têm que ser pensadas, experimentadas, articuladas com outras coisas… e isso exige tempo… quando falo em perder tempo é nesse sentido. E dar tempo à subversão daquilo que se está a fazer. É por isso que é tão fundamental esta ideia de encadeamento no nosso trabalho, com um trabalho a dar origem a outro trabalho; tem precisamente que ver com isso, ou seja, é a ideia de que quando se vai fazer uma coisa ela pode de repente ser subvertida na própria execução e resgatada para outro fim.
VC (M): Pois, nem tudo é visível; tem mais que ver com uma ideia de plasma que nós não sabemos definir exatamente o que é que é, que pode até ser algo mais ligado ao inconsciente, que na altura certa aparece como uma espécie de voz que nos indica um caminho ou dirige nalgum sentido. Neste caos todo é importante manter uma perceção aguçada, onde até aquilo que podemos aprender do público é importante.
VC (J): Sublinhe-se que em relação ao trabalho, em relação ao que nos conduz, nós temos um nome para isso que é Condução Cega. É um trabalho (uma projeção em vídeo circular a partir de um cilindro) que foi feito ao longo do tempo e apresentado em 2014. É um trabalho que também designa uma metodologia. Parte do desenho de uma figura desenhada que é um cego, mas quando viras o desenho ao contrário vês um maestro. Aqui não é uma coisa, mas a passagem de um para o outro que formula o movimento.
MVHP: E em relação à linguagem, que é tão fundamental na vossa obra, como integram essa dimensão na visualidade?
VC (M): Acho que isso tem que ver com o mistério, ou seja, como comunicar, por exemplo, através de um palíndromo, onde se estabelecem passagens para encontros infinitos.
VC (J): Pois, interessa-nos encontrar coisas subterrâneas na própria maquinaria da linguagem, como a palavra “servil” que lida ao contrário dá “livres”. Ou seja, a própria palavra “servil” contém em si, paradoxalmente, a ideia de liberdade.
VC (M): Mas usamos também situações em que a inversão não tem significado particular, mas que são interessantes, como “Portugal – Lagutrop”.
VC (J): A própria palavra palíndromo não resulta nesse sentido. Isto aponta para uma ideia de sistema que não se fecha sobre si próprio, que não é necessariamente consequente.
MVHP: Onde muitas vezes exploram o colapso entre imagem e linguagem. Há pouco falaram na imagem de uma maquinaria da linguagem; transpondo para o vosso trabalho, como gostariam de definir a vossa maquinaria produtiva?
VC (M): Como uma espécie de terceiro vértice: vértice, vortex, vertigem. Aquele ponto que está entre eu e tu, que no fundo é uma infinidade de pontos.
VC (J): Até entre nós os dois. Dois pontos que vão puxando para cada lado, por vezes em oposição, outras em consonância. E o terceiro ponto é, precisamente, o que se chama Von Calhau!, que já não é a Marta nem o João. Essa luta é o que nos resta.
MVHP: Para terminar, duas perguntas dolorosas! A primeira que vos queria colocar, com respostas individuais, é qual é a primeira obra de arte, em sentido lato, que vos marcou, comoveu, influenciou…
VC (J): Ui, não sei bem… sei lá, lembro-me de ter ficado muito impressionado com o Taxi Driver… mas no sentido daquilo que perguntas, ocorre-me uma exposição que vi em Itália, para aí há dezoito ou dezanove anos, do Accionismo Vienense, e no espaço da exposição sentia-se um cheiro estranho, que parecia éter, e isso acabou por permanecer como uma memória muito forte…era até uma exposição menor deles, mas o contexto geral acabou por ser muito impressivo. Agora o que claramente foi uma coisa muito forte e que perdura até hoje são os textos do Kafka. A ideia do sem fim. No âmbito mais estrito das artes visuais, o meu interesse inicial no desenho parte do interesse pelas capas dos discos. Eu não sabia quem eram o Dan Graham, o Gerhard Richter ou o Mike Kelley, mas conheci-os através desse universo.
VC (M): Lembro-me de uma coisa muito esquisita… ainda hoje procuro esse filme… Tinha para aí quatro ou cinco anos, a minha mãe tinha-me mandado para a cama, mas fiquei a ver um filme de terror que me fascinou, porque tive medo; ou seja, essa coisa de ter medo, marca-te de um modo quase estético. Lembro-me também de um concerto dos Peste&Sida quando tinha para aí dez anos… Devem ter ido à minha escola, ou coisa assim, e aquela energia foi algo que me tocou… aquilo no fundo até é música para putos (risos). Por outro lado, tenho de mencionar o universo das rádios e televisões piratas: era um universo muito especial.
VC (J): Ah, mas se falamos de experiências e não propriamente de obras, tenho de referir a rádio dos dessintonizados: o meu irmão, que é invisual, não conseguia dormir sem ter um rádio ligado…
MVHP: …dessintonizados?...
VC (J): Sim, quando estás ali numa banda estranha, onde vais apanhando frequências distintas e de vez em quando ouves uma voz fantasmática, resquícios de música…
VC (M): E, devo dizer, lembro-me bem – quando estiveste em Famalicão na Fundação Cupertino de Miranda e eu estava no liceu – de ter ido ver algumas das exposições que lá fizeste!
MVHP: Passemos então à dolorosa: se tivessem todas as condições financeiras e institucionais para fazer qualquer tipo de exposição, o que fariam?
VC (J): Respondendo agora (se calhar se me fizesses esta pergunta amanhã diria qualquer coisa muito diferente) acho que gostava de ir para o CERN [a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear] investigar aquilo, tentar chegar ao cerne da questão! [risos] Uma exposição acerca da circulação da matéria negra, aí está!
VC (M): Eu acho que gostava de fazer qualquer coisa à volta da arte bruta; há uma boa coleção agora em São João da Madeira, mas acho que só têm lá um ou dois portugueses…
VC (J): Sim, sim… imagina uma exposição em torno do Adolf Wölfli! Tem um livro com mais de duas mil páginas que é também uma ópera, partituras de música… é incrível!
MVHP: Pois, há casos fantásticos mesmo em Portugal. Lembro-me do [Álvaro] Lapa a ajudar a publicar o António Gancho…
VC (J): Bem, outra influência muito grande! O texto introdutório de As Dioptrias de Elisa é lindo, fundamental… fala do “cego que vê através dos olhos”, é um texto incrível.
MVHP: Bem, fiquemos por aqui, senão a espiral não tem fim. Como sempre, um prazer. Obrigado!
Miguel von Hafe Pérez
Curador independente. Iniciou a sua actividade na Fundação de Serralves, em 1989. Exerceu, posteriormente, o cargo de director da Fundação Cupertino de Miranda, entre 1995 e 1998 e foi responsável pela área de artes plásticas e arquitectura da Capital Europeia da Cultura, em 2001. Comissariou o pavilhão de Portugal para a Bienal de São Paulo, em 2002. Dirigiu o projecto Anamnese, um arquivo sobre arte contemporânea portuguesa para a Fundação Ilídio Pinho e foi eleito Vereador da Câmara Municipal do Porto, em 2006. Entre 2009 e 2015 foi director do Centro Galego de Arte Contemporánea, em Santiago de Compostela, Espanha. Actualmente, assume a curadoria de vários projectos expositivos. O último pode ser visto actualmente no Museu de Arte Contemporânea de Serralves: Álvaro Lapa: No tempo todo.
