Sim, perde algum sono e diz que tentaste [1]
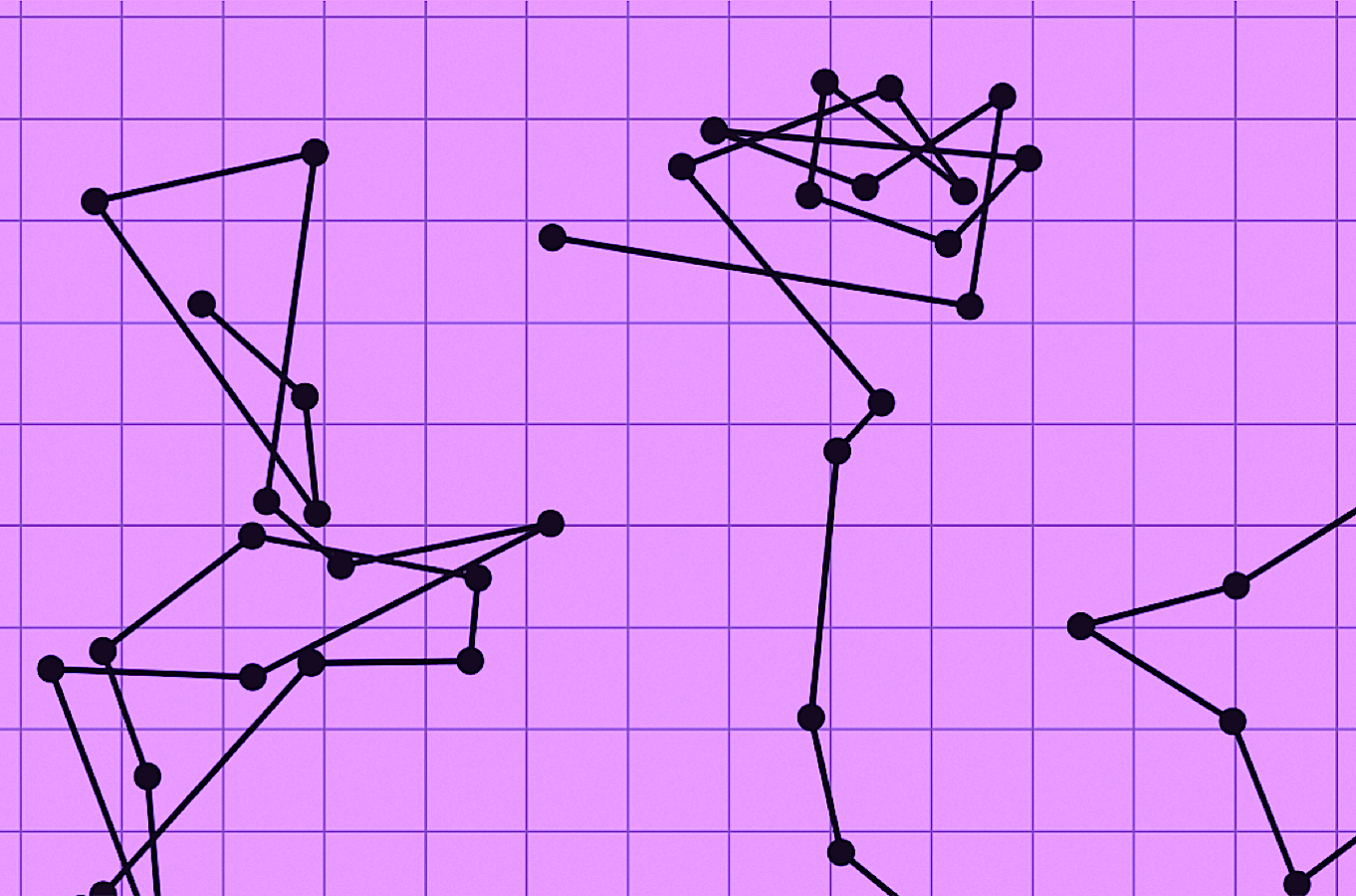
1. vaguear pela Terra, procurar o mundo
Andrei Rublev. Rússia do século XV. Tarkovsky, durante mais de três horas, celebra a liberdade em tempo de repressão, tomando como referência a vida do consagrado pintor de ícones religiosos. Neste longo filme, que encontra a sua forma numa espécie de viagem com ida e volta, desenha-se uma poética que enuncia as contraditórias e labirínticas interacções que o artista estabelece com o mundo e consigo próprio. Experienciando o sofrimento, o limite, a perda da fé ou ainda o destino trágico vivido pelo seu povo num sistema opressor, arte e vida (con)fundem-se. Mesmo quando é a violência do mundo que bloqueia, será ainda ela a possibilitar a abertura ao inesperado. Longo caminho o desta via sacra, o retorno do artista a si mesmo que, enquanto se descobre, se constrói. Se o mundo real, exterior ao mosteiro, o faz perder a fé, esta ser-lhe-á devolvida pela recíproca implicação entre arte e mundo. O silêncio, a distância e a solidão, constituem-se como recusa de qualquer forma de concessão, mesmo quando é um príncipe que manda cegar os escultores.
Tão distante de Andrei Rublev, alguns dos nossos artistas viajantes e cosmopolitas do século XXI, procuram a conciliação com o mundo, a máquina do palco mundano. Toda a possibilidade de encontro com a desproporção ou o colapso é-lhes insuportável. Um fardo. Estes novos cidadãos do mundo já não se aproximam das tempestades e da fluidez do cosmopolitismo estóico da Antiguidade. A determinação em ultrapassar divisões geopolíticas, dedicando as suas vidas a procurar o melhor de si mesmos, aí encontrando a sua força própria, exprimia a vontade do pensamento estóico em articular a cidadania com o cosmos. A cidade e o universo, a natureza humana e as leis da physis. Todos os que habitam o cosmos são cidadãos do mundo, são cosmopolitas, pois é no cosmos que o homem se cumpre de forma plena. [2]
A cosmopolis estóica dará lugar a um certo tipo de cosmopolitismo ao qual Sloterdijk chamou “o provincianismo dos mimados, [...] o estado de espírito dos cidadãos do mundo como um ‘provincianismo em viagem’”. É este que dá ao espaço interior do mundo capitalista o seu toque de abertura a tudo o que se pode obter em troca de dinheiro." [3] Como trazer, hoje, para o território da arte, o cosmopolitismo enquanto ética da hospitalidade, segundo o programa que Derrida [4] tão singularmente enunciou, e pensar os artistas como livres cidadãos do mundo? Como constituir o mundo numa grande cidade-refúgio que, abrindo as portas ao recém-chegado, torna a hospitalidade na “experimentação de um direito e de uma democracia por vir" [5], enfrentando mais o inesperado e menos o empreendedorismo? Tornando o seu cosmopolitismo numa viagem que se pode conceber como a “espacialidade existencial do sonho" [6] para usarmos a palavras de Peter Sloterdijk, ou imaginá-la como um permanente exercício vital, é o artista que ainda nos pode mostrar de que forma o sonho configura a nossa desmesura revolucionária:
Segundo a terceira observação, a mais profunda ou a de Beckett, “não viajamos pelo prazer de viajar, que eu saiba, somos estúpidos, mas não a esse ponto” [...] Então, que razão poderá em última instância haver, se não a de verificar, de ir verificar alguma coisa, alguma coisa de inexprimível que vem da alma, de um sonho ou de um pesadelo, que mais não seja saber se os chineses são tão amarelos como se diz, ou se certa cor improvável, um raio verde, certa atmosfera azulada e purpúrea, existe de facto algures, lá longe. O verdadeiro sonhador, dizia Proust, é o que vai verificar alguma coisa [...]" [7]
Que sentido ainda pode ter para um artista reconhecer na sua produção o eco kantiano da finalidade sem fim, acreditar na obra como uma certa forma de compromisso para daí construir um forte sentido? É a vida e a arte que, tal como A zona, em Stalker, se tornam numa estranha e fascinante sucessão de armadilhas. Disse Tarkovsky que a zona era isso mesmo, apenas a zona, nada mais que a vida ao longo da qual nos destruímos ou libertamos. A cada um aquilo que é in actu, o trabalho sobre as próprias cicatrizes, aí onde cada um encontra a sua medida, contava Grotowski aos seus actores. A experiência do actor-santo, uma santidade laica, o sacrifício enquanto acto de estranhamento, transgressão e superação de si mesmo, a arte como território no qual a vida ou, se quisermos, o estilo como combate singular, se liberta. Grotowski, “ irmão” de Tarkovsky: “o ponto crucial da questão, porém, é que o artista não pode expressar o ideal ético do seu tempo, a menos que toque todas as suas feridas abertas". [8]
Quanto mais o capitalismo torna a arte num produto de luxo, mais a banaliza. Se o interesse pela arte parece crescer, tal facto não é mais que o reflexo do estado pós-fordista do “fluxo informativo”. Oscilando entre a euforia e a depressão, ou seja, entre a ânsia da comunicação e a vontade de autonomia, a prática artística é atravessada pela luta interna do capital e a sua vocação, digamos, à maneira de Mark Fisher, bipolar. A situação na qual muitos artistas se encontram só aparentemente é contraditória. Tornados burocratas e gestores de contactos, de connections, alimentam um sistema que transforma ambições descartáveis em expectativas legítimas. Figuras da economia desejante, aliadas do capital. Descentralizada a organização do trabalho, descentralizada a arte. Talvez possamos ir ainda mais longe:
Se a esquizofrenia é a doença que assinala os limites exteriores do capitalismo, como pretendiam Deleuze e Guattari, o transtorno bipolar pode ser a patologia mental própria do “interior” do capitalismo.(...) Num grau nunca visto em nenhum outro sistema social, o capitalismo alimenta-se do estado de ânimo dos indivíduos, ao mesmo tempo que os reproduz. Sem doses iguais de delírio e confiança cega, o capitalismo não poderia funcionar. [9]
2. permanecer no ar, caminhar num lugar difícil
É também na experiência da liberdade e da censura que Tarkovsky se manifesta como nosso contemporâneo. Se não pensar apenas no estrelato ou no mercado como finalidade primeira, esse novo Salon ou acidente de trabalho, o que continua a ter um artista para oferecer aos outros? Talvez “uma certa ideia do cosmopolitismo, um outro, que ainda não chegou. Se chegou… então, talvez ainda não o tenhamos reconhecido.” [10] Fazendo sinos como Boriska, pintando ícones como Andrey, entre o silêncio e o desaparecimento, é o artista como obstinado companheiro que, a partir do exterior, desse “fora de si“, celebrando a distância de si mesmo e de qualquer ordem interior, se torna infinita e dispersa relação. Já não se trata de procurar uma qualquer verdade mas de provocar a lei, torná-la visível, retirá-la do mutismo no qual se esconde e insinua. Como no filme de Herzog [11] quando o professor Daumer fala sobre o deserto a Kaspar Hauser, este fica muito entusiasmado mas como não pode convocar vivências, inventa a sua história, o seu deserto. Num mundo onde tudo lhe é estranho, Kaspar, que queria ser cavaleiro e tinha medo de galinhas, observa, a partir do campo, que a torre onde fica o seu quarto é muito menor do que ele. Pergunta a si próprio como é possível. Apresentado num circo, com um anão, um índio e uma criança autista, Kasper aparece no conjunto dos anormais expostos ao isolamento, a uma certa forma de censura através da qual o censurador liberta o seu próprio medo.
Quando o estigma se inscreve na pele o desejo é negado quotidianamente, ninguém aceita Kaspar, dirá ele. O mesmo poderiam dizer Amélia, João, Ricardo, Sónia e tantos outros que se encontram internados no Centro Hospitalar Conde de Ferreira e com os quais, em Dezembro de 2019, no âmbito da montagem de uma exposição [12] que decorreu no panóptico daquele Centro, estabelecemos tantas cumplicidades. Diariamente visitavam o espaço expositivo e perguntavam: é um evento? dizia a Amália. Teorias da cultura. O que é uma exposição? Inquiria a Sónia. Práticas conceptuais. O João, que ficou incumbido de fazer visitas guiadas, perguntou se era possível dizer aos visitantes da exposição que os balões azuis eram o céu, apesar de ele próprio saber que, para os autores da instalação, o mar era a referência. Desvios. Eu também sou pintor, afirmava o Ricardo. Ofereceu-me uma pintura, realizada na oficina de expressão plástica. Nessa altura, este paciente do centro hospitalar, que também frequentava aulas de inglês, disse-me que já sabia dizer I understand. Pedi-lhe para associar ao seu nome, escrito no verso da pintura, essa frase que já aprendera.
Escreveu: I stand. Hermenêuticas. Tenho personalidade borderline, sou como um livro que está de pé, fechado, mas que a qualquer momento se começa a abrir e as páginas se soltam, explicava a Sónia. Desordens. Com todos eles construímos o Colectivo Panóptico, impedindo que o desejo se vincule à representação. Encontramos nestes limiares a condição do artista, a do voo. Sub specie aeternitatis. Disse Zola: ”se me perguntarem o que é que eu, artista, vim fazer ao mundo, respondo-vos que “venho para viver nas alturas [13] ou, nas palavras de Hesíodo, “o melhor de todos é aquele que pensa por si, compreendendo o que em seguida e no fim será melhor”. [14]
Concluo este texto a 15 de Março de 2020. Pandemia anunciada, graças ao COVID- 19. Adiamos o início dos trabalhos com o Colectivo Panóptico. Para o vírus do capital só um vírus pandémico que o (nos) imobiliza à velocidade da luz. Pergunto, a mim própria, qual foi o problema político importante que, até hoje, o capitalismo resolveu. Talvez os vírus estejam apenas a alertar para os limites da nossa frágil condição. Até se cansarem de nós.
Eduarda Neves é Licenciada em Filosofia e Doutorada em Estética. Professora de teoria e crítica de arte contemporânea, área na qual tem vários trabalhos publicados. Curadora independente. A sua atividade de investigação e de curadoria, cruza os domínios da arte, filosofia e política.
A autora escreve de acordo com a antiga ortografia
[1] Sim, perde algum sono e diz que tentaste: Ian Curtis/Joy Division, “Autosuggestion”, in Antolologia Poética. Lisboa: Editora Assírio e Alvim, 1996, p. 61.
[2] O homem não é mais que um fragmento do cosmos pois a physis é um todo; homens e cidades não existem separados da natureza mas integram-na.
[3] Peter Sloterdijk, Palácio de Cristal. Para uma teoria filosófica da globalização. Lisboa: Relógio D´Água, 2008, p. 211.
[4] Diz o autor: “Qual é, com efeito, o contexto no qual propusemos esta nova ética ou esta nova cosmopolítica das cidades de refúgio?”. Mais à frente esclarece que a noção “cidade refúgio” foi escolhida “porque tem títulos históricos a nosso respeito e para quem quer que cultive a ética da hospitalidade. Cultivar a ética da hospitalidade. Esta linguagem não será já, por acréscimo, tautológica? [...] Não cultivamos uma ética da hospitalidade. A hospitalidade é a própria cultura e não uma ética entre outras. [...] A ética é hospitalidade é, de parte a parte, co-extensiva à experiência da hospitalidade, seja qual for a forma como a abrimos ou limitemos.” (Jacques Derrida - Cosmopolites de tous les pays, encore un effort! Paris: Éditions Galilée, 1997, pp.16 e 41).
[5] Jacques Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!..., p.58.
[6] Peter Sloterdijk, Tens de mudar de vida. Lisboa: Relógio D´Água, 2018, p. 191.
[7] Gilles Deleuze, Conversações. Lisboa: Fim de Século Edições, 2003, p. 112.
[8] Andrei Tarkovsky, Esculpindo o tempo. São Paulo: Martins Fontes editores,1998, p. 202.
[9] Mark Fisher, Realismo Capitalista. No hay alternativa? Buenos Aires: Ed. Caja Negra, 2018, p. 66.
[10] Jacques Derrida, Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!..., p.58.
[11] Werner Herzog, O Enigma de Kaspar Hauser, filme, 1974.
[12]Exposição integrada no projecto curatorial ANDANDO EM TORNO DO SOL. Máquinas, aranhas e corsários.
[13] Émile Zola, Paul Cézanne, “Proudhon y Courbet (1865)”, in Tomar partido. Crónica epistolar de un distanciamento 1878- 1887, Madrid: LIBROS CORRIENTES, 2019, p. 108.[14] Hesíodo - Trabalhos e Dias. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2005, p.104.
[14] Hesíodo, Trabalhos e Dias. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 2005, p.104.
